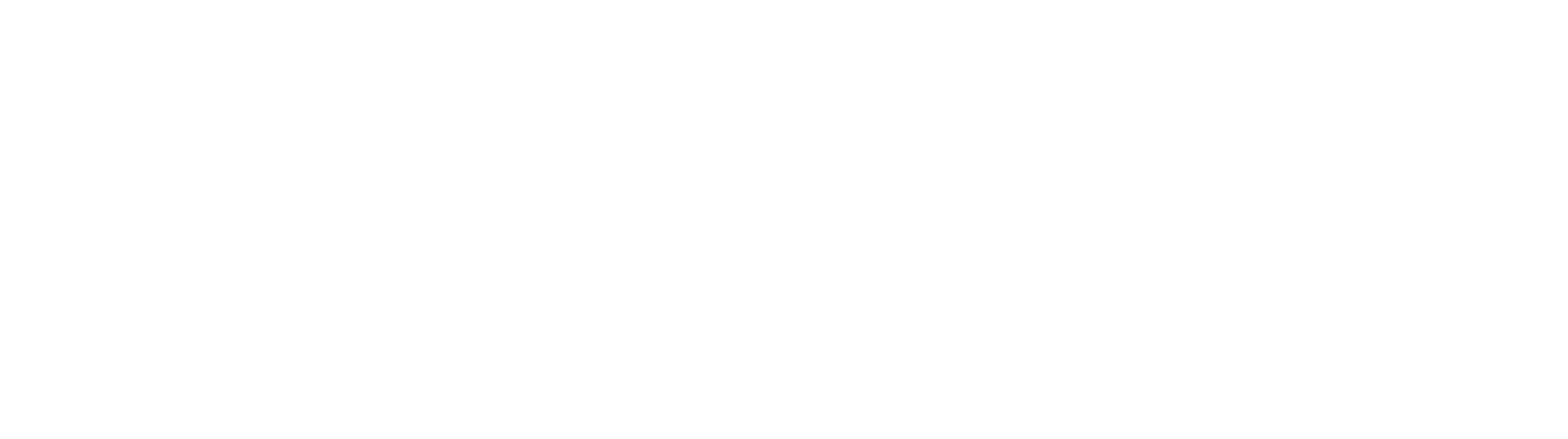O escritor estadunidense Henry David Thoreau (1817–1862), cujo bicentenário de nascimento se celebrou em 2017, não podia, pela idade, pelo ano de nascimento, pelo quadro cultural, fazer parte dum movimento anarquista organizado. Na verdade, um tal movimento só toma lugar, e de forma embrionária, a partir do final da década de 60 do século XIX, depois da criação da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), em especial no momento em que uma tendência anti-autoritária, assim se designou então, se polarizou dentro desta associação, nunca antes de 1868, em torno da figura de Miguel Bakunine. Assim se originou uma corrente de grande visibilidade na cultura finissecular europeia e americana, o anarquismo, cuja caracterização exacta, nos seus distintos graus e níveis, está fora do âmbito desta síntese.
O que temos antes da década de 60, e Thoreau pela idade e pela época em que deu a lume as suas obras faz parte desse grupo, é um conjunto de pensadores isolados, que na Europa e nos Estados Unidos, quase sempre no desconhecimento uns dos outros, criaram um pensamento político/jurídico inovador e disruptivo, quer à direita quer à esquerda da época, marcada a primeira por tendências autoritárias e monocráticas e a segunda por inclinações liberais e democráticas. Este pensamento de definição difícil, furtivo que é a esquematizações lineares, contraditório até nas suas muito variadas expressões, apresenta, porém, um denominador comum, capaz de funcionar como uma identidade (embora instável): a novidade de socializar a política e a riqueza, retirando-as das mãos do Estado ou dos monopólios e entregando-as à sociedade e ao indivíduo.
Pela ousadia das ideias, pela firmeza dos escritos, mas também pela aura de escritor e de panfletário vigoroso que marcou larga influência nas gerações mais novas, gerando uma admiração sem limite em figuras mais jovens, entre elas Bakunine, Baudelaire, Tolstoi, que lhe deve o título da sua epopeia, Guerra e Paz, Flaubert, Antero ou Eça de Queiroz, que o citou e parafraseou na Conferência do Casino Lisbonense, destaca-se entre todos Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), o primeiro que reabilitou de forma positiva e dinâmica, logo em 1840, na introdução ao seu livro O que é a propriedade?, a palavra “anarquia”. Seria esta a primeira profissão de fé anarquista, que depois desenvolveu e alargou num livro já final, que pode ser avaliado como o seu testamento de ideias, Do princípio federativo (1863), que tanto significado veio a ter no surgimento da tendência anti-autoritária dentro da AIT. Assinale-se ainda a boa recepção das utopias cooperativistas de Robert Owen (1771–1858) junto dos transcendentalistas americanos – Emerson e Margaret Fuller – e que por sua vez abriu caminho a uma recepção imediata das teorias económicas de Proudhon em solo americano, de Lysander Spooner a Benjamin Tucker, num tópico de grande pertinência mas que carece um estudo autónomo deste.
As décadas de 40 e de 50 do século XIX foram fecundas em escritores e pensadores que, perto ou longe, nos Estados Unidos ou na Europa, seguiram itinerário paralelo e idêntico ao do grande mestre francês e se bateram por uma ideia política que deixava de lado o governo do Estado, insistindo na nociva inutilidade deste e na capacidade de auto-governo da sociedade, transferindo assim o princípio de soberania do povo (ou de Deus) para o indivíduo. Basta apontar esse caso curioso que se chama Anselme Bellagarrigue, de quem pouco se sabe, a não ser que, regressado dos Estados Unidos em 1848, admirador confesso de Thomas Paine e de William Godwin (de quem logo em 1796, três anos após a edição inglesa, se editou nos Estados Unidos uma edição do Political Justice), publicou em Paris, no quadro da revolução contra a monarquia de Luís Filipe, um jornal de nome fulminante, A Anarquia – jornal da ordem, que apresentava como legenda a desarmante frase, “a anarquia é a ordem; o governo é a guerra civil”. Daí talvez um pensador anarquista actual como Normand Baillargeon – canadiano de língua francesa – ter usado como título para a sua interessante e sintética história das ideias libertárias o seguinte título: L’ordre moins le pouvoir [A ordem menos o poder].
Pela idade, pelo espírito, pela obra escrita que legou ao futuro, Thoreau faz parte desta cintilante constelação de escritores, publicistas, panfletários, conferencistas e pensadores que na transição da primeira metade do século XIX para a segunda metade levaram a peito renovar as ideias político-sociais, passando ao lado de, ou melhor, deixando para trás as principais escolas de pensamento político-jurídico então em voga. Estranhos embora a qualquer movimento e a qualquer organização, são eles, na verdade, os fundadores daquilo que se chama anarquismo e é no seu pensamento que se encontram as raízes da moderna tradição libertária, das quais resultaram as muitas e variadas escolas que ao longo das décadas foram dando braçadas e ramos a esta árvore hoje frondosa e de avantajado porte.
viveu uma vida curta e deixou uma obra escassa, que se veio todavia a revelar de grande significado, quer para o ulterior desenvolvimento das ideias e das práticas libertárias, quer para uma literatura norte-americana ainda na adolescência e que aí encontraria um dos pilares estruturantes do seu imaginário. O seu texto mais conhecido e com certeza o mais decisivo no âmbito que aqui nos importa, [Resistance to Civil Government (1849)], palestra inicialmente proferida na sua cidade natal, Concord, no Massachusetts, em 1848, e publicada no ano seguinte numa antologia de Elisabeth Peabody, foi gizado a partir dum motivo autobiográfico. Retirado desde 1845 numa cabana por si construída em Walden, nos arredores de Concord, Thoreau recusou, por imperativo moral, pagar os seus impostos no ano de 1846, atitude que lhe valeu o cárcere. Apresentou então como razão para a sua recusa o destino do seu dinheiro: financiar um sistema abjecto e um governo injusto, se não corrupto, que aceitava a escravatura e empreendia uma guerra desumana contra o México.
Fundado neste episódio autobiográfico, Thoreau, através dum estilo eloquente e interpelante, pensa a relação do indivíduo com o governo e do governo com a sociedade. A divisa de Jefferson, ou que pelo menos lhe é por vezes atribuída, “o melhor governo é o que menos governa” [the government is best which governs the least] é aceite com entusiasmo e desenvolvida até se tornar: “that government is best which governs not at all” (). Este anti-estatismo – “I quietly declare war with the State”, diz ele no ensaio de 1849 () –, com o perecimento natural do governo de Estado, é uma meta ideal, à qual se chegará inevitavelmente através da vontade de todos e a colaboração de cada um, mas só no futuro, à imagem do que sucede no texto político clássico de Godwin, Political Justice, que foi com certeza a sua fonte de inspiração. Thoreau aceita, porém, que no imediato o que importa é estabelecer o melhor governo possível. Que governo é este? O que aceita a dissidência jurídica do indivíduo, dando-lhe um alto grau de soberania individual e reconhecendo-lhe o direito a viver à margem, que um mau governo, um governo autoritário, não permite, tratando os seres humanos como um rebanho e obrigando-os ao cumprimento rígido das leis e das normas, mesmo as mais iníquas, o que se torna do ponto de vista do autor uma forma de escravização humana e razão bastante para o afastamento, a dissidência ou desobediência do ser humano moral, preocupado com a justiça e a liberdade. Daí o passo do seu ensaio, hoje universalmente famoso, em que indica que sob um governo que prende injustamente o lugar do homem justo é a prisão – “Under a government which imprisons unjustly, the true place for a just man is also a prison” ().
A noção de “desobediência civil”, que parece ter antecedentes no ensaio de Étienne de la Boëtie, A servidão voluntária, e pode também aqui ter como fonte mais próxima Godwin, que foi a ponte entre a tradição humanista anterior e a do mundo moderno, é encarada por Thoreau como uma arma colectiva. Justamente célebre é a passagem do seu discurso, que tanto marcaria o Gandhi da década de 20 quando optou pela não-cooperação, pelo boicote e pela desobediência civil em massa, em que ele, Thoreau, assinala que bastariam 1000 homens determinados a não pagarem impostos para fazerem uma revolução pacífica, derrubarem um governo e pararem uma guerra tão injusta e desumana como a do México. O ditame da recusa de obedecer a um governo que não permite a dissidência ou a objecção e que se empenha em violentar outros povos através da guerra ou em violentar a consciência moral do indivíduo mantendo regras moralmente inaceitáveis como as do esclavagismo acaba por pôr em causa a eficácia da ciência política contemporânea de Thoreau. Não menos indelével é o passo final do grande ensaio de 1848 em que o autor se interroga se a democracia, tal como a conhecemos será mesmo a última palavra em termos de governo. A resposta é não. A democracia tal como existe, quer dizer, fruto das instituições políticas estadunidenses e das ideias francesas setecentistas, é apenas um fragmento, um esboço primário e imperfeito daquilo que é possível e desejável conceber e concretizar. A democracia pode ser aperfeiçoada no sentido da soberania individual, matriz da identidade libertária, o que está de acordo com a ideia que no início do ensaio ele avançou – o melhor governo é o auto-governo.
Outros textos de Thoreau podiam aqui corroborar estas linhas fortes do seu ensaio mais sólido e desenvolvido. O mais conhecido, “Um apelo a favor do capitão John Brown” [A Plea for Captain Brown, 1859], é menos um afinamento ou uma evolução das noções antes criadas a partir da experiência autobiográfica vivida no Concord que uma tentativa de as aplicar a uma tragédia, a de John Brown, um dissidente com um perfil moral acima de qualquer suspeita e que por desobediência às leis fora condenado à forca. Tendo empreendido uma enérgica acção directa visando os potentados escravocratas, Brown encarnava a desobediência civil tal como Thoreau a teorizara. Daí o veemente apelo que fez para lhe salvar a vida, no que não foi bem sucedido. Mas talvez o texto mais significativo do ponto de vista que aqui nos move seja “A vida sem princípio(s)” [Life without Principle, 1863], em que o problema moral toca a sua tensão máxima e em que a ideia duma vida gratuita, vivida para os prazeres mais simples e humildes, parece ser a expressão literal do que espontaneamente, literalmente até, a anarquia é – a vida sem princípio (nem fim). A palavra anarquia, a não confundir com “acracia”, quer dizer à letra “sem princípio”.
A recepção de Thoreau nos Estados Unidos, se não foi quase imediata, foi ao menos progressiva e as suas ideias acabaram por ser bem recebidas até aos dias de hoje entre minorias activas e expressivas. Embora inspiradas de forma directa na experiência de Gandhi na Índia, é de crer que as grandes campanhas pelos direitos civis dum Luther King no início da segunda metade do séc. XX não fossem o que foram se não tivessem beneficiado muito do reconhecimento que um Thoreau e em especial a sua noção de “desobediência civil” já então gozavam junto da população estadunidense. O mesmo se poderá dizer da obra de Emma Goldman, não obstante a forte influência nela duma tradição libertária europeia. Já a penetração das ideias de Thoreau na Europa foi mais demorada e espaçada, com ausências e hiatos, se bem que um sábio tão empenhado e desinteressado como Max Nettlau (1865–1945), que alguém chamou o Heródoto da anarquia, tivesse tido contacto directo com as ideias do grande solitário norte-americano logo no início do século XX, manifestando por elas grande apreço e simpatia e integrando-as na monumental história do anarquismo a que dedicou as últimas décadas da sua vida e de que uma síntese viu a luz no final da década de 20. Lá se encontra um curioso e bem documentado capítulo dedicado ao “espiritualismo libertário americano” do século XIX em que se diz de Thoreau: “A mais bela figura deste meio é, do ponto de vista libertário, (1817–1862), autor de Walden: my life in the woods (1854) e do célebre ensaio ‘On the duty of civil disobedience’ (1849)” ().
Não obstante a enorme recepção que a obra de Nettlau teve nos meios anarquistas europeus das primeiras décadas do século XX, o seu caso não significou a entrada imediata das ideias de Thoreau no património libertário europeu. Foi preciso esperar pela segunda metade do século XX para Thoreau sedimentar de forma definitiva neste cabedal. Talvez o caso de Henri Arvon seja representativo. Quando escreveu a primeira síntese sobre as ideias e as práticas libertárias para a colecção “que sais-je”, L’anarchisme (), e o livro foi escrito e seguramente pensado na segunda metade da década de 40, não consagrou a mais pequena alusão aos ensaios e à figura de Thoreau. No final da década de 70 Arvon interessou-se pelas novas ideias libertárias que estavam a surgir em torno da obra de Murray Rothbard, o libertarianismo e o anarco-capitalismo, e encontrou Thoreau, a quem passou a dedicar larga atenção, nunca mais deixando de o referir e estudar nos múltiplos trabalhos que ainda dedicou ao assunto. Não há hoje história do anarquismo, nos dois lados do Atlântico, que não contemple e acarinhe a figura e a obra de Thoreau.
O caso português decalca o que acabamos de dizer. Se bem que Nettlau fosse então conhecido entre nós e desde o início da década de 30 existisse em Espanha uma tradução acessível da sua síntese historiográfica, as alusões a Thoreau são entre nós tardias. Nas mais representativas publicações libertárias portuguesas das primeiras décadas do século XX não se dão conta de referências a Thoreau ou às suas ideias. O investigador António Baião fez a meu pedido uma pesquisa exaustiva em revistas como Germinal e Sementeira e no jornal diário , órgão da Confederação Geral do Trabalho, e dentro dele no seu suplemento ilustrado semanal, e ainda na bela revista Renovação que este jornal publicava, não encontrando em qualquer deles o nome de Thoreau ou o das suas obras. Conquanto o jornal tenha consagrado atenção às lutas anti-coloniais gandhianas da década de 20, a expressão “desobediência civil” é surpreendentemente rara de encontrar. Mesmo tendo ficado ainda por peneirar algumas publicações importantes, como A Aurora (Porto, 1910–19; 397 n.º) e A Comuna (Porto, 1920–27; 276 n.º), já que a imprensa libertária portuguesa foi neste período numerosíssima e variada – João Freire e Maria Alexandre Lousada só em Lisboa e apenas para o primeiro terço do século seleccionaram 53 títulos () – não cremos que a pesquisa final e completa venha alterar, ao menos de forma decisiva, o quadro.
Para o virar de página, foi necessário esperar pela segunda metade do século XX, em especial pelos anos 70 e pela Revolução dos Cravos. À revista A Ideia, fundada em Paris em 1973/4 por um desertor da marinha portuguesa, João Freire, coube talvez a primeira alusão a Henry David Thoreau e às suas ideias na imprensa libertária portuguesa. O número de estreia da publicação apareceu em Abril de 1974, manifestando logo nesse momento atenção à tradição libertária americana, através de tradução dum trecho de Murray Bookchin, um dos mais heterodoxos libertários da segunda metade do século XX. No seu número 9, Outono de 1977, consagrado às relações da ecologia com a anarquia, a revista apresenta uma página dedicada ao pensador e activista da desobediência civil, uma curta nota biográfica não assinada mas da autoria de Maria Teresa Campos Silva, com retrato à pena alusivo à sua figura, também não assinado, mas da autoria de Maria Alexandre Lousada, já então ligada à revista. O autor de Walden é dado como exemplo maior da luta do ser humano “contra todas as formas de poder” e as suas ideias encaradas como um contributo decisivo à formação e ao desenvolvimento do anarquismo de sentido individualista, o que nos parece certeiro, mesmo tendo em conta que lhe coube a ele, até antes de Tolstoi, conceber e testar pela primeira vez métodos de resistência social, como a recusa em pagar impostos e integrar exércitos ou instituições moralmente lesivas, que se tornariam no século seguinte nas mãos de Gandhi portentosas armas de combate colectivo.