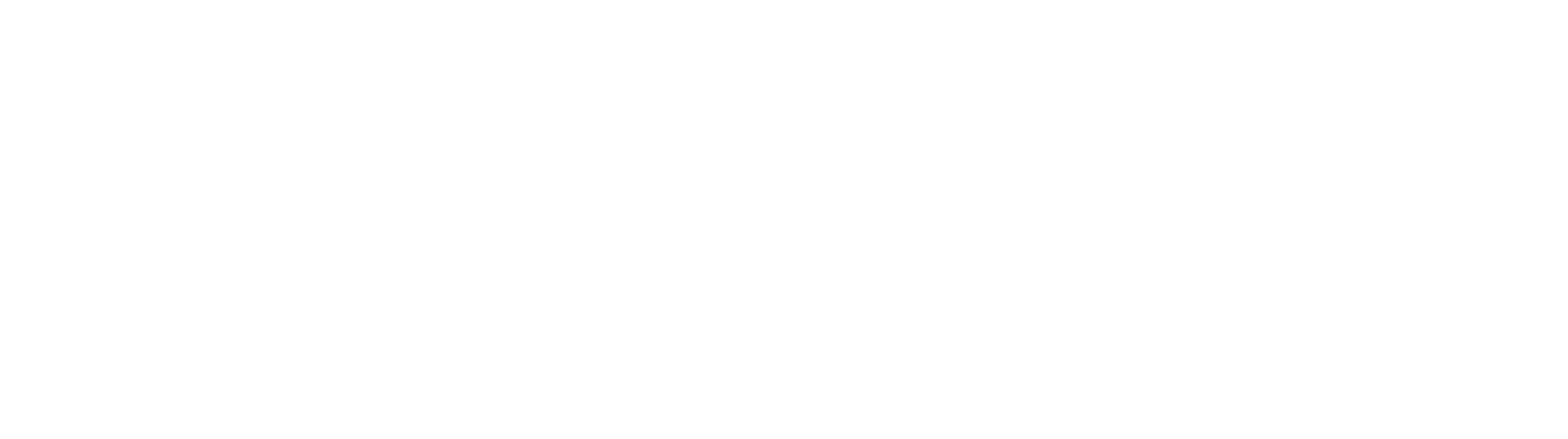Gostaríamos de começar este pequeno estudo e reflexão com o relato de uma história real passada com um ex-aluno que um dia chegou à aula e partilhou com visível animação o que lhe havia acontecido, há poucos minutos, no caminho para a Faculdade. Ao passar pela Avenida do Brasil, diante do Hospital Júlio de Matos, um internado chamou-o através do gradeamento do jardim e, quando o aluno se aproximou, perguntou-lhe: “Ouve lá, vocês aí dentro são muitos?”.
Este episódio desafia-nos a pensar quem está do lado de dentro ou de fora da dificilmente discernível fronteira entre a patologia e a normalidade, bem como o que são estas na verdade. A questão é tanto mais difícil quanto há uma forma de normalidade patológica, justamente designada como normose.
Pierre Weil define-a como “o conjunto de hábitos considerados normais e que, na realidade, são patogênicos e nos levam à infelicidade e à doença” (). E também, desenvolvidamente, “como o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria das pessoas de uma determinada sociedade, que levam a sofrimentos, doenças e mortes”, sem que os seus autores/actores tenham consciência dessa sua natureza patogénica e letal (). Jean-Yves Leloup, considerando que a existência e a evolução humana se desenvolvem entre um desejo e um medo inconscientes, o “desejo do aberto, apreendido como total presença ou plenitude” (pleroma), e o “medo do aberto, compreendido como total vacuidade, aniquilamento ou dissolução do ego” (kénosis), entende a “normose” como “a estagnação do desejo, […] que impede o fluxo evolutivo” (). A “normose” é o primeiro estado de “resistência à kénosis”, enquanto “medo diante do aberto” que se pode converter em “ansiedade e angústia”, na “neurose”, e em “terror”, na psicose (). Poderíamos aqui convocar também a visão de Ken Wilber de que cada indivíduo humano constantemente aspira ao infinito e à totalidade, como aquilo de que mais necessita, mas ao mesmo tempo padece o terror disso mesmo a que mais aspira, pois teme que seja a morte do seu sentimento de si como alguém separado. Vive assim dilacerado entre Eros e Thanatos, o desejo de plenitude e o medo da morte ().
Nesta perspectiva, a experiência humana advém sempre e precisamente na encruzilhada entre aquilo que, em simultâneo, mais deseja e mais teme: o “Aberto” referido na “Oitava Elegia” de Rilke, das Offene. Na visão rilkeana, é nele que a criança, o animal não-humano e os que morrem estão naturalmente imersos, ao passo que os amantes disso se aproximam. Já o humano comum é, desde criança, educado para “olhar para trás,/para a Forma (Gestaltung) e não para o Aberto”, não acedendo jamais ao “puro espaço (…) para onde se abrem infinitamente as flores”, mas sempre e apenas ao “mundo” (). Mundo, do latino mundus, é etimologicamente um espaço limpo, delimitado por algo mais vasto, que sintomaticamente vem a ser designado negativamente como o imundo. Neste contexto, entendemo-lo como o que surge reificado nos limites de uma percepção condicionada pelo perspectivismo e pelo interesse particular da consciência intencional, instaurado pela cisão entre sujeito e objecto. Já a criança, antes do seu olhar ser preso à “Forma” das coisas e das ideias, perdia-se e era desperta “no silêncio” do “que é puro, o não vigiado, que se respira e se sabe infinito e não se deseja” (). É por isso que os humanos em geral, sendo sempre “espectadores” voltados para alguma coisa, sensível ou inteligível, estão constantemente “na atitude de alguém que parte em sua direcção”, vivendo “em despedida sempre” (), ao passo que, no que respeita ao animal, Rilke considera que “onde nós vemos futuro vê ele Tudo/e a si no Todo e salvo para sempre” ().
Não estamos certos de que a percepção do animal não-humano seja necessariamente e sempre mais aberta e menos limitada do que a do humano. Seja como for, cremos que esta percepção do real condicionada pelo direccionamento da consciência para entidades materiais ou ideais, e não para a abertura sem contornos onde se inscrevem e processam, é a raiz mais profunda do regime normótico da consciência humana comum, ou tornada comum. Este regime consiste em identificar-se com a forma, sua ou dos objectos do mundo, e neste caso, se for apetecível, visá-la como algo exterior de que se carece no presente e se anseia e julga poder obter no futuro, e assim nunca viver no Presente/Presença sempre instante do Aberto e da totalidade nele inscrita. Ainda na linguagem de Jean-Yves Leloup: viver na carência com uma nostalgia ou saudade mais ou menos recalcada da plenitude, que todavia se entreabre nos “momentos numinosos” em que uma “anamnese essencial” acontece, enquanto “abertura da inteligência, do coração, do corpo à origem incriada que no instante e no devir nos funda” (). A normose é o medo desta abertura e a resistência a ela, pelos quais a experiência humana se auto-encerra em limites que dolorosamente a fazem viver aquém das suas mais fecundas potencialidades de uma vida florescente e plena.
A interrogação de Thoreau que nos dá o título – “Porquê suportar o hospício quando poderias ir aos céus?” (Why put up with the almshouse when you may go to heaven?) – tem tudo a ver com esta questão. Surge na primeira carta ao seu correspondente e futuro amigo Harrison Blake, escrita em 27 de Março de 1848, após uma epístola em que Blake afirma estar convicto de que todos os deveres se concentram na abertura da alma a Deus — “In this opening of the soul to God, all duties seem to centre” () — não havendo nada mais a fazer senão submetermo-nos perante ele a cada instante para que a sua presença nos preencha. Em resposta, Thoreau exorta vivamente a que se faça tábua rasa do passado, dos nossos costumes e das formas da antiga vida, ou seja, do “hospício” (almshouse) e do “embalsamamento” (embalming), para aceder “aos céus” (heaven) de uma vida nova num “corpo recém-nascido” (infant’s body) (). Evoca depois os homens seguros de si nos assuntos correntes, considerados “prudentes e sábios” (prudent and knowing), mas que passam a maior parte das suas vidas detrás de uma secretária, consumindo-se: “glimmer and rust and finally go out there” (). Daí a conclusão de que a respeitabilidade e segurança baseada em normas instituídas são ilusões que se esfumarão: “This, our respectable daily life, on which the man of common sense (…) stands so squarely, and on which our institutions are founded, is in fact the veriest illusion, and will vanish like the baseless fabric of a vision” (). Thoreau faz um diagnóstico da normose e apresenta a sua alternativa: ser simplesmente o que se é e viver no presente: “I live in the present” (; cf. ). Quanto a Blake, exorta-o a ir além da moralidade, a não deixar nada imiscuir-se entre si e a luz, a não carecer de “carta de apresentação” para a “Cidade celeste” e a pedir para ver Deus directamente e não algum dos seus “servidores”, contando apenas consigo e não com a companhia humana ().
A alternativa à normose – afim ao que Thoreau designa como “a kind of sleep and forgetfulness of the soul” () – é uma vida autêntica, desperta e plena, uma vida de pé no mundo e não estendida “a todo o comprido na lama” (lie along by our whole length in the dirt, ênfase no original; ). Essa vida tem três aspectos inseparáveis e por isso não hierarquizáveis: abertura ao divino, a si e à natureza. Trata-se de repousar a mente no “Grande Espírito” (Great Spirit, modo dos índios norte-americanos designarem o que outras culturas designam como Deus), o que se faz abrindo a consciência, lançando um olhar aberto sobre as coisas (segundo a ideia de liberal view) que acolha as percepções como surgem, descobrindo, por exemplo: “if it be only one poor frozen-thawed apple that hangs on a tree, what a glorious achievement! (…) What an infinite wealth we have discovered! (). É nessa abertura da consciência que Deus reina, como se explica ainda no mesmo trecho. Isso articula-se com o “despertar” para a simples sensação de existir, no reconhecimento pelo que se é e pelo que se tem, numa constante “acção de graças” (thanksgiving), que revela toda a satisfação que se pode colher de “pequenos nadas” que no fundo são “riquezas infinitas”, imperdíveis por qualquer colapso bancário, pois, “my wealth is not possession but enjoyment”(). Em Walden o autor descreve a delícia do “entardecer”, “quando o corpo inteiro é um só sentido e aspira deleite através de cada poro” ().
Note-se que este prazer ou alegria de ser evoca a experiência de Rousseau nos “devaneios solitários” na ilha de Saint-Pierre, que relata como uma fruição “de nada a não ser de si mesmo e da sua própria existência”, “sentimento precioso de contentamento e de paz” (). O prazer de ser é, na luminosa visão de Jean-Yves Leloup, o “prazer original”, o “prazer primeiro”, o prazer sempre presente que os diferentes objectos de prazer apenas despertam ou estimulam, de onde o risco de o perder identificando-o com eles, o que faz com que surja o medo da sua perda e a sua busca incessante. O “pecado original” seria “o esquecimento, a recusa ou o desprezo deste “prazer original””, “a queda de um estado de “bem-aventurado”, que vive sem cessar no prazer presente, num estado de “infeliz”, que vive sem cessar na busca de um “prazer ausente”, a passagem da “abertura” e “confiança em tudo quanto existe” ao “fechamento” e “suspeição a respeito de tudo o que existe” ().
Regressando a Thoreau, “a simples sensação de existir” (only a sense of existing, ) não é todavia a de um eu separado do mundo, mas antes possibilita um desdobramento do ser por via de uma serenidade infinita de onde emanam galerias amplas e ocas de silêncio:
I was smoothed with an infinite stillness. I got the world, as it were, by the nape of the neck, and held it under in the tide of its own events, til it was drowned, and then I let it go down-stream like a dead dog. Vast hollow chambers of silence stretched away on every side, and my being expanded in proportion, and filled them. ()
É um sentimento de expansão ou reconhecimento de si no mundo, que passa por um simples afastar a “cortina” com que os humanos limitam a sua percepção e se auto-excluem do “lar da Natureza”, onde na verdade estão profundamente integrados: “And to be admitted to Nature’s hearth costs nothing. None is excluded, but excludes himself. You have only to push aside the curtain” (). O caminho é uma “comunhão” directa com a natureza – “Não sou eu mesmo em parte folhas e húmus?” (; cf. também 43, 95–96 e 159) – e um aprofundamento das percepções, ou uma nova percepção da verdade (a new perception of truth, ). Esta passa também por fazer da viagem exterior o suporte da interior: “To let the mountains slide, – live at home like a traveler” () é em si que há que escalar os “Montes Deleitáveis primitivos” (delectable primitive mounts within you), no mesmo lance pelo qual se reconhece que a epifania essencial do mundo externo é sempre a mais próxima: não há “Eldorado” senão onde se vive (). Thoreau exorta a não se perder a possibilidade de uma experiência auroral, edénica ou áurea do mundo (), de que os mitos da humanidade recordam a intemporal possibilidade sempre emergente (). Ela emerge por exemplo no reconhecimento da qualidade paradisíaca do rio mais próximo, afim à sua percepção livre da dualidade sujeito-objecto e exterior-interior: “If there is any depth in me, there is a corresponding depth in it. I tis the cold blood of the gods. I paddle and bathe in their artery” (). É aprofundando a experiência da natureza onde se está, e não dando a volta ao mundo, que se pode atingir o interior, o “mar íntimo” ou o “caminho directo para a Índia” como metáfora do “Conhece-te a ti mesmo” ().
A via para esse “viver em profundidade e sugar toda a medula da vida”, motivo que levou Thoreau aos bosques, é a da “simplicidade” () e da libertação da normose escravizadora, que começa pelo aprisionamento na opinião empobrecedora que se tem de si mesmo, pela qual se imaginam limites inexistentes: “Haja auto-emancipação também nas Antilhas da fantasia e da imaginação” (). Conforme a alegoria contada num “livro hindu” não identificado, e que recorda outras narrativas da gnose mediterrânica, como o Canto da Pérola (), a “alma” possui uma natureza divina cujo esquecimento ou desconhecimento a leva a identificar-se com o que não é. A “vida med, sendo o ser humano capaz de almente presente “o que ns inexistestes: al, íocre” dos humanos radica numa visão que “não passa para além da superfície das coisas” e considera a “verdade” como “algo remoto” e transcendente, quando afinal ela está, com a divindade, integralmente presente “aqui e agora”, sendo o ser humano capaz de “apreender tudo o que é sublime e nobre” pelo simples facto de estar constantemente inserido no corpo da “realidade” circundante (). Numa bela e sugestiva imagem, Thoreau considera que, se “o mais antigo filósofo egípcio ou hindu levantou uma ponta do véu que cobria a estátua da divindade”, “essa trémula túnica ainda permanece levantada”, permitindo que ele contemple “uma glória tão fresca como a que contemplou o filósofo”, não havendo na verdade separação entre ambos (). O acesso à verdade, ou ao “Aberto” de Rilke, é intemporal e oferece-se igualmente a todas as consciências, pois é inseparável do corpo do mundo: a realidade é uma plena e contínua revelação, sempre que houver a-létheia, não-velamento, ou seja, verdade, não como discurso conceptual, mas enquanto abertura da consciência (), tema e questão centrais da escrita de Thoreau. A imagem evoca o mítico erguer do véu de Ísis, divindade assimilada à Natureza e que, na inscrição da estátua presente em Saïs, reportada por Plutarco e Proclo, proclama: “Eu sou tudo o que foi, o que é e o que será” (). Recordemos que no ensaio inacabado Os discípulos em Saïs, Novalis relata que um deles levantou o véu da deusa e “viu – maravilha das maravilhas! – a si mesmo” (). É esta a experiência de Thoreau, afim ao Transcendentalismo, e em parte realizando praticamente o que Emerson preconizou em ensaios seminais como “Nature” de 1836 e “Self-Reliance” de 1841, mas talvez mais cauteloso quanto à questão da independência do indivíduo. Segundo Walden, trata-se de encontrar-se no imo comum a si e ao mundo e encontrar nele a “perene fonte da nossa vida”, que é simultaneamente a origem da “nossa experiência” e a “força” imanente que “modela o ser” de “todas as coisas”, pois os “subtis poderes do Céu e da Terra” são inseparáveis da sua “substância” ().
Se a vida nos bosques, “mais que uma universidade”, “favorecia não apenas a meditação, mas também a leitura em profundidade” (), esta leitura extravasa das “linguagens escritas” para abranger a constante “linguagem”, “sem metáfora”, de “todas as coisas e acontecimentos”. Para tal, mais do que disciplinas académicas, como história, filosofia ou poesia, importa “a disciplina de olhar incessantemente o que existe para ser visto”. Essa absorção da consciência na experiência do mundo natural conduzia a esquecer a “passagem do tempo” e a um crescimento interior sem acção externa, levando Thoreau a compreender experiencialmente o “que os orientais chamam contemplação e renúncia aos trabalhos” (). Livre de “tédio”, encontrou a “distracção” na atenção plena à “própria vida”, sempre nova (). A solidão enquanto ausência de companhia humana abre as portas da percepção para se encontrar “a companhia mais doce e terna, a mais inocente e animadora”, “em qualquer objecto natural”. O “convívio com a Natureza” desvenda à consciência a “infinita e inexplicável cordialidade” das coisas não-humanas, ao ponto de Thoreau encontrar nelas a “presença de algo aparentado” a si e uma humana proximidade que, paradoxalmente, não é a das pessoas humanas ().
Numa carta a Blake, diz que “cada homem deve incarnar uma força totalmente irresistível”, na medida em que ousar “totalmente ser”. Há uma pujança ou potência ontológica no “homem sábio”, não o que mais conhece, mas antes o que vive de consciência mais aberta (ver ). Não será um alvo da vontade, como em Nietzsche, mas o que já lá está e naturalmente decorre de se realizar “a finalidade própria do seu ser”, em vez de trabalhar por conta de outrem: “Not working for any corporation, its agente, but fulfilling the end of his being!” (). A “simples e irreprimível satisfação com o dom da vida”, o “louvor a Deus”, é o que pode tornar os humanos “simples e bons como a Natureza”, assimilando-se às “próprias riquezas do mundo” (). Para se reconhecer e desfrutar da “riqueza interior” é necessária a “pobreza voluntária”, exemplar nos “antigos filósofos chineses, indianos, persas e gregos”, que desapareceram para dar lugar aos “professores de filosofia” de hoje (). Assegurado “o necessário à vida”, a alternativa reside não “em obter o supérfluo”, mas em tirar “férias do trabalho bruto”, pois o ser humano não se enraizou “tanto na terra, senão para poder alçar-se com o mesmo ímpeto em direcção aos céus” (). Não é todavia esse o caminho que a humanidade em geral segue. Como escreve Thoreau em :
Este mundo é um lugar para a azáfama. Que incessante actividade! (…) Só para variar, seria interessante ver a humanidade a fazer uso do lazer. Não existe mais nada a não ser trabalho, trabalho e mais trabalho… (…) Creio não haver nada, nem sequer crime algum, tão contrário à poesia, à filosofia, sim, até mesmo à própria vida, como este trabalho incessante. (28–29).
Não a actividade, mas o trabalho, troca a “vida” pela “coisa”, cujo “preço” “é a quantia, à vista ou a prazo”, da “vida” sacrificada para a obter (). Nisto “os homens transformaram-se nos instrumentos dos seus instrumentos” (), cedendo a mil afazeres, ocupações e preocupações e fazendo tudo mais depressa para produzirem e consumirem sempre mais (). O trabalho é como a frenética e espasmódica Dança de São Vito (). “Comprando e vendendo”, os humanos “desperdiçam a vida como escravos”, em vez de corresponderem ao exemplo e exortação de Thoreau: “Cresce selvagem de acordo com a tua própria natureza” ().
O crescer selvagem de acordo com a própria natureza é o “ir aos céus” da carta a Blake citado no título deste estudo, o viver no Aberto de Rilke e no prazer original de que fala Jean-Yves Leloup. São o medo e a recusa disso que encerram a humanidade no afadigamento normótico e destrutivo que preside ao biocídio em curso no Antropoceno e que origina a “sociedade do cansaço” e do esgotamento neuronal diagnosticada por , fruto da desinserção da vida activa na vida contemplativa, à qual está tradicionalmente subordinada (). Na verdade, para recordar o episódio vivido pelo meu ex-aluno ao passar pelo gradeamento do Hospital Júlio de Matos, nós “aqui dentro” somos muitos. Mas há sempre a possibilidade de abandonar o hospício e “ir aos céus”. Há sempre a possibilidade de reconhecer a loucura da normose e encetar o caminho do seu “decrescimento sereno” () pela absorção contemplativa na inviolável saúde da Natureza.